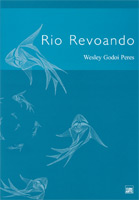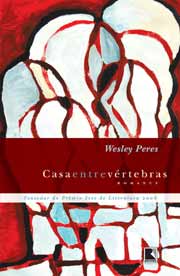C-dur
 Nesta primeira entrevista com colunista de Ruído Branco, mantive conversa com Paulo Guicheney — de Serra Talhada (à sombra de caranguejeiras, cangaço ou Virgolino e cascavéis) a Brasília (com o sabor ainda vivo de Niemeyer). Guicheney, conhecido colunista desta revista, é músico erudito contemporâneo, vencedor do “Prêmio Funarte — Bienal XVII” pela peça Anjos são mulheres que escolheram a noite, composta a partir do poema homônimo de Wesley Peres, também colunista de Ruído Branco. O princípio da entrevista é debater com o músico sobre seu processo de composição, sua relação com a música como fenômeno inexoravelmente pertinente à existência humana em todos os tempos, mais um pouco de História e duas ou mais pitadas de Estética dentro.
Nesta primeira entrevista com colunista de Ruído Branco, mantive conversa com Paulo Guicheney — de Serra Talhada (à sombra de caranguejeiras, cangaço ou Virgolino e cascavéis) a Brasília (com o sabor ainda vivo de Niemeyer). Guicheney, conhecido colunista desta revista, é músico erudito contemporâneo, vencedor do “Prêmio Funarte — Bienal XVII” pela peça Anjos são mulheres que escolheram a noite, composta a partir do poema homônimo de Wesley Peres, também colunista de Ruído Branco. O princípio da entrevista é debater com o músico sobre seu processo de composição, sua relação com a música como fenômeno inexoravelmente pertinente à existência humana em todos os tempos, mais um pouco de História e duas ou mais pitadas de Estética dentro.
JAMESSON: Primeiro, vamos para o babá: cite-me um músico e me diga por quê. Não vem ao caso que solicitar a um músico que cite um músico pode parecer ridículo, e muito menos vem ao caso que é de fato ridículo. Apenas responda à pergunta. Qualquer revolta em particular a ela, xingue-me ou faça um protesto ou, no mais, corrompa a pergunta. Há pessoas que tendem a responder mais do que perguntamos em entrevistas ou a sequer responder ao que perguntamos. E isso também é ridículo. Logo, vale quase tudo.
PAULO: Citar apenas um músico é de uma maldade... Pelo teor da entrevista eu cito Glenn Gould: porque subverteu a sala de concerto e desse modo esculhambou todo o modus operandi da música erudita, porque era irônico e sarcástico, porque criou personagens absurdos, porque escreveu bastante, porque compôs algumas obras intrigantes (“So You Want to Write a fugue”, “The Idea of North”) e porque tocou os clássicos de uma maneira nada clássica e tocou os novos como se fossem clássicos.
JAMESSON: Com o teor da entrevista, você quis dizer que a idéia geral aqui é de subversão? Gosto disso. Se um teor não lhe fosse dado, e eu apenas solicitasse um músico (com toda maldade e bom grado!), Glenn Gould não seria sua resposta? E uma curiosidade: ao deixar os concertos para se dedicar aos estúdios, Gould provoca o nascimento de músico erudito de outra ordem, cada vez mais para dentro do guarda-roupa?
PAULO: Glenn Gould é o oposto do “para dentro do guarda-roupa”. E isso é um paradoxo, ele, o homem Glenn Gould, era recluso, escondido, um hipocondríaco em último grau, mas sua arte não. Ao privilegiar a gravação em detrimento do concerto, ele subverteu a música. O piano desapareceu, a sala desapareceu, o público desapareceu, ou pelo menos, se transformaram, se tornaram coisas novas. Eu citei Glenn Gould porque ele aponta novos caminhos, é um intérprete comprometido com o novo. Nele, eu vejo a possibilidade de que a música erudita continue, de que ela não se consolide como um museu. A sala de concerto é um museu. A música erudita agoniza nas salas de concerto. Gould sacou isso.
JAMESSON: Agora faça o mesmo em relação a um poeta. Tudo bem, deixo que seja um prosador, afinal, você pode não respeitar a pergunta, então é bom deixar que você já vá corrompendo tudo logo de antemão.
PAULO: Outra maldade. Dostoievski: porque escrevia polifonicamente e porque conseguia fazer o tempo parar: penso na cena do sonho do Dmitri nOs Irmãos Karamazov, que eu leio como se fosse música. O tempo pára. Apenas grandes compositores conseguem isso.
JAMESSON: Gostaria de ouvir você falar um pouco mais sobre isso de o tempo parar. Em poesia épica — da ossatura de Homero, Virgílio, Dante, Camões, Derek Walcott, Mello Mourão (e outros) —, como diz Trajano Vieira, o tempo é uma entidade nula. Na verdade, ocorre que a convocação do tempo passado (a convocação dos mortos) trás o pretérito para o presente, e, nisso, o tempo simplesmente pára.
PAULO: Citei a cena do sonho porque ela se parece com música, se parece com o silêncio de Webern, com as passagens modulatórias de Bach, com o acúmulo de dissonâncias no Tristão de Wagner. E também com Messiaen, sobretudo com Messiaen. Para Messiaen — óbvio que não apenas com ele, esta deve ser “a questão” da música — isso é tão presente que sua primeira grande obra se chama “Quatuor pour la fin du temps”. Em Messiaen temos a idéia de que estamos suspensos. Isso me encanta sobremaneira. Parar a vida.
JAMESSON: Some uma resposta sua a outra e diga o que isso tem a ver com sua condição de pessoa capaz de compreender e de converter o mundo em objeto estético.
PAULO: Eu componho porque tenho um problema com o som. Desde criança tenho um problema com o som, com o mundo sonoro. É por isso que componho: para diminuir meu problema com o som. O que na verdade não tem acontecido. E não sei bem que relação isso tem com Glenn Gould ou Dostoievski. Ou talvez tenha toda uma relação.
Minha ligação à criação, minha opção de vida, dá-se justamente por esta incompreensão do sonoro. É o não compreender que me faz compositor.
JAMESSON: Se eu soubesse de Psicanálise e pudesse ou quisesse pôr você no divã, eu diria que seu problema com o som é conseguir pará-lo. E como o som (por natureza física) é dinâmico, isso seria de uma subversão daquelas!
PAULO: Gostei disso... Não há como pará-lo... Mas os criadores são homens dados a quimeras.
JAMESSON: Como é de seu conhecimento, sou um ignorante musical: gosto de Chico Buarque e de Elomar. Ainda assim, percebo — e somente percebo e não mais que percebo — que em seu trabalho (pode chamar de trabalho?) você bricola, cola, monta e desmonta peças para forjar novas peças. Qual o nome dessa doença? (É-me importante ouvir sobre isso, porque faço o mesmo a respeito da poesia. Logo, sou igualmente doente.) Parece-me com isso que chamam de Pós-modernidade. Mas, na verdade, acredito que você faz o que Umberto Eco chama de “obra aberta”. E isso, no caso da música, é uma peça em movimento. Há peça em não-movimento? (Não estou falando do avanço das notas no tempo.)
PAULO: Gostar de Chico Buarque, de quem conheço a obra musical e a admiro, não faz de alguém um ignorante musical. Acho que o “gostar” é autêntico. E quando falamos de música falamos de algo onde predomina o “gostar”. A música é uma linguagem para iniciados, Adorno está certíssimo ao dizer isso. Compreender — na medida em que isso é possível, ou pelo menos, entender os meandros técnicos da coisa — os labirintos contrapontísticos de uma obra de Josquin é algo difícil, requer um esforço descomunal, um tempo enorme despendido no estudo de algo separado do mundo. O que não impede de maneira alguma o “gostar”. Ouvimos Josquin, eu e você, e podemos maravilhosamente “gostar”. E podemos gostar também de Chico Buarque, maravilhosamente “gostar” de Chico Buarque. Eu me permito gostar de Chico Buarque e também de Josquin.
Sobre o meu trabalho: eu não sei que nome eu poderia dar a esse processo que se torna a minha música. Eu acho que é isso o que você disse: eu bricolo, colo, forjo peças novas e com certeza há uma abertura muito grande na percepção de tudo isso. Não sei se entendi o que você chama de uma peça em não-movimento… Fale-me mais.
JAMESSON: A peça em movimento, na semiótica de Umberto Eco, é um objeto estético concebido como algo não definitivo, digamos assim. Não definitivo, nesse caso, quer dizer indeterminado, como as poéticas (artes) contemporâneas. Esse tipo de obra convida o intérprete a participar da construção do objeto estético. Pode-se dizer, inclusive, que essa construção nunca se conclui. As obras anteriores à modernidade não são assim, porque ainda que houvesse polifonia, a consciência disso não era tão metaestética quanto hoje. Cortar, manipular, reordenar uma obra era, antes, um absurdo, uma vez que não era possível interpretar uma obra fora do previsto pelos manuais, nem era possível “tocar os clássicos de uma maneira nada clássica e muito menos “tocar os novos como se fossem clássicos”. Um caso diz respeito às séries de partituras permutáveis, de Henri Pousseur, analisadas por Umberto Eco.
PAULO: Boa parte da música popular poderia ser pensada enquanto não-movimento. Se isso é bom ou ruim, eu deixo como uma questão, algo a ser pensado.
JAMESSON: Músicos de formação clássica contemporânea, vindos das demais formações, assim como cineastas do chamado “cinema de arte”, doentemente se queixam de os críticos literários e críticos da cultura em geral, no Brasil, não conhecerem ou não se darem a conhecer os melhores trabalhos nacionais nessas áreas. Mas tais músicos, assim como tais cineastas, conhecem na mesma moeda os melhores trabalhos da literatura contemporânea brasileira? Será que não ficam no escolar: Drummond e Rosa, a título de metonímia?
PAULO: Vou interpretar o “doentemente” como um certo incômodo, algo que não está resolvido. Há uma queixa a algo que é incômodo. A música erudita contemporânea não é conhecida e isso incomoda. Nem mesmo os músicos, no geral, a conhecem, que dirá conhecer outras manifestações artísticas. Há uma ruptura entre a música contemporânea e a sala de concerto. Agora, me parece claro que os críticos da cultura não conhecem nem mesmo o escolar da música erudita brasileira. O escolar é o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. O que é uma pena. É absurdo que toda uma produção seja desprezada. A música erudita é abissal e é difícil, com toda a certeza. As coisas não estão dadas, não estão na superfície como acontece na música popular. Veja, mire e veja, não estou desprezando a música popular, estou apontando diferenças. É preciso amor para compreender a música contemporânea, é preciso dar aquilo que não temos. Amar é dar aquilo que não temos, Lacan disse isso. A escuta está solapada por apenas um gênero — ou o que é pior: uma fórmula — a canção. Existe um mundo para além disso, existem abismos. É preciso entregar a escuta, se dar, entregar os ouvidos para estes abismos.
JAMESSON: Algo somente ganha estatuto de investigação quando um problema se instala. Assim, nem nos damos conta que temos um molar que seja até que um passe a doer. Posso dizer que sua resposta é a melhor que já ouvi acerca da pendenga que fiz questão de cavucar acima. Então você me fez ver uma outra coisa: os críticos da cultura não conhecem nem o escolar do que seja arte além de literatura e artes plásticas. Temo que isso seja bem nocivo à educação da sensibilidade nacional. Parte disso você respondeu acima. Eu só apontei, agora, um pernicioso problema político no que conhecer e ouvir música que não se destina a balançar as ancas poderia provocar nas pessoas.
PAULO: Eu concordo com você, e mais: eu não suporto a idéia de música ou qualquer outra manifestação artística como algo que suprima o desejo. A obra de arte é, antes, a via da incerteza, da dúvida, da dubiedade, do desconforto travestido de conforto, da inutilidade (em contraposição ao imperativo do pragmatismo que permeia nossas vidas). A obra de arte é a via do desejo e desejar é algo incômodo. A música contemporânea incomoda, nós estamos aqui para incomodar. Somos “formatadores” de infernos. O verdadeiro compositor é aquele que acredita em seres desejantes. Quem tiver coragem que venha ter conosco.
JAMESSON: Não é mais inteligente reconhecer que há uma deficiência de conhecimento acerca dos fenômenos estéticos no Brasil contemporâneo, por parte de quem produz arte? Ou o ignorante sou eu? Mas não será esse um caso ocidental? Você foge à regra ou que se dane e vamos todos juntos tomar chá com bolachas e continuar nessa lengalenga?
PAULO: Eu acredito que realmente há uma deficiência de conhecimento. Com certeza. E não é preciso inteligência para perceber isso, pois é extremamente óbvio. Agora, acho também que no caso da música isso é ainda mais grave. Picasso é um pop-star. Stravinsky, não. Münch é um pop-star. Schoenberg, não. Eu acredito em colaboração, que é o que está acontecendo aqui. Conversamos e somos de áreas diferentes, ao mesmo tempo em que somos criadores, o que nos une em uma maneira de ver o mundo.
JAMESSON: Talvez o caso seja mais grave: se Nietzsche não é um pop-star, pelo menos seu bigode o é. Mas a gravidade não é essa, porque não quero ninguém pensando que o problema está em ser pop-star e muito menos em quem é ou deixa de ser; o problema está na cisão de gabinete que se deu à música.
PAULO: O.k., é impossível imaginar um Schoenberg pop-star: “Se é arte, não é para as massas; e se é para as massas, não é arte”. Não se trata disso, de querer um Schoenberg pop-star. O problema é desconsiderar uma produção tão maravilhosa. Schoenberg nos faz desconhecer o mundo, ele nos dá respostas horrorosas para a existência. Isso tem de ser considerado. Não há garantia para nada na vida — a música contemporânea nos diz isso todo o tempo. É preciso ir ter com ela: aprender a desaprender.
JAMESSON: A pergunta que segue é bem problemática. Se eu fosse você, eu não a responderia. Mas como você não é eu, irá responder. Eu não responderia para não enrolar demais, no entanto, você não é gongórico.
De maneira não-técnica (se for possível!) — porque há uma porrada de gente lendo esta entrevista —: em que consiste seu processo de criação? (Eu já o desenhei para mim. Volto número a número de Ruído Branco, onde há algumas de suas peças, inclusive a premiada Anjos são mulheres que escolheram a noite, e vislumbro o processo criativo. Isso me aguça a ouvir. Gosto de sentir entendendo, ou pelo menos de criar um entedimento para o que sinto.)
PAULO: Podemos pensar em três momentos, os dois primeiros relativamente simultâneos: 1 – sou consumido por uma frase: “A voz de um corpo despedaçado” ou “Sonata para as vísceras azuis”, por exemplo. 2 – sou consumido por um som, um acorde, um motivo, uma textura, ou mesmo uma frase (agora musical). 3 – preciso construir algo com isso. É assim que acontece. Acho que não expliquei nada, essas coisas não têm explicação. Componho para não ser engolido pelas coisas que me atormentam. Essa é a minha ilusão, a minha resposta.
 Paulo Guicheney
Paulo Guicheney
Paulo Guicheney é compositor. Quando criança teve de optar entre ABBA e Trio Parada Dura. Optou por ABBA, mas depois descobriu que a coisa pegava mesmo era com Beethoven. Estudou piano e composição na UFG, onde também fez mestrado em música eletroacústica. Atualmente leciona composição na UNB.
E-mail: pauloguicheney@hotmail.com